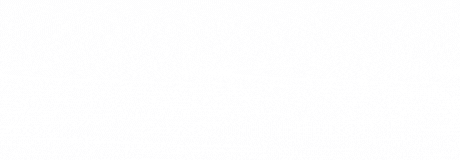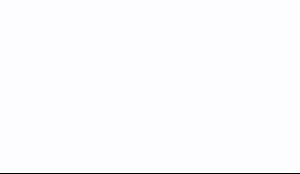O frio cortante dos Alpes agredia o rosto da menina Ariella Pardo Segre, de três anos. Era o ano de 1943. Carregada por um contrabandista de cigarros, ela fazia parte de um grupo que fugira do regime nazista na Itália. Atrás dela, estavam seu irmão, Lucio, de sete anos, sua mãe Íris Volli e seu pai, Ferrucio Pardo, um renomado professor de filosofia em Bolonha, onde moravam até então.
A menina tremia de frio e de medo. Um medo que não se apresentava exatamente na forma de terror ou pânico, mas como uma incerteza paralisante, uma sina de explicação ainda impalpável para uma garota. Ela estava sendo embalada pelos ventos cruéis da vida, controlada por pessoas que guiavam o destino de populações inteiras, tão frias quanto esse imenso deserto de gelo que se deparava à sua frente.
“Vivi uma infância em que pensava estar vivendo uma vida normal. Mas não era. Havia restrições enormes e fui perceber isso anos depois que fugimos, quando fui crescendo”, revela Ariella, hoje com 80 anos.
Mas, naquele momento de fuga, ela começou a intuir que algo não ia nada bem. Dias antes, eles haviam saído às pressas de Bolonha, após o vizinho, Alfredo Giommi, alertar seu pai que a Guestapo (polícia secreta nazista) acabara de ir lá à sua procura.
“O vizinho despistou os nazistas, dizendo que não conhecia meu pai. Em seguida, assim que ele chegou, o alertou para ir embora naquele instante. Meus pais decidiram sair da Itália, a pé. Como os Alpes não são em linha reta para caminhar, demoramos muito, dias e dias para chegar à Suíça. Era um pequeno grupo decidido a sobreviver”.
Um contrabandista de cigarros conhecia rotas e abrigos e organizou a fuga.
“Minha mãe lhe deu seu anel de noivado para que me carregasse durante a caminhada. Me sentia como um saco de batatas sendo carregado de um lado para o outro, sem entender direito o porquê daquilo tudo”.
Eles saíram da Itália via Milão para onde foram, de Bolonha, de trem, no compartimento de animais.
“Assim ninguém notaria que estávamos lá. Foi um aluno de meu pai que nos ajudou a fugir de Bolonha, nos deu uma carroça e nos acompanhou até o terminal. Sem documentos em Milão, seríamos fuzilados. Por isso meu pai decidiu que atravessaríamos a fronteira para a Suíça. A situação se tornou insustentável na Itália depois de setembro de 1943, quando Mussolini voltou”, conta.
Perseguição na Itália
A partir de 1938, a situação dos judeus sob o regime fascista era penosa. Perseguidos, já não podiam frequentar escolas de outras comunidades, segundo o decreto denominado Leis Raciais Fascistas. Ferrucio também só poderia lecionar em escolas judaicas até que, gradualmente, a situação foi ficando ainda pior após setembro de 1943, quando as tropas alemãs se apoderaram da Itália.
Mussolini, após ser capturado em julho daquele ano pelos aliados, na Segunda Guerra, foi resgatado pelos alemães e reconduzido ao poder, tornando-se apenas uma marionete dos nazistas, neste novo regime denominado República Social Italiana. Foi quando as deportações de judeus para os campos de concentração se tornaram política no país.
Durante a travessia, Ariella viu sua mãe cair em uma fenda na neve. Uma sensação de abandono a abateu e ela começou a gritar desesperadamente. Um desespero que apenas aterrorizou seus companheiros de viagem, que lhe repreendiam para que parasse de gritar e expô-los ao perigo de que fossem descobertos.
“Alguém me falou: cale a boca, sua mãe morreu! Eu emudeci. Não falei mais nada, fiquei em silêncio por meses”, lembra.
Íris, no entanto, foi retirada com vida e se recuperou, a ponto de, na linha fronteiriça com a Suíça, ter forças para atirá-la pela cerca de arame farpado, antes mesmo dela.
“Ela não tinha certeza de que iria passar. Então me jogou para um oficial do outro lado, dizendo que era para ele me manter segura e que, se ela não sobrevivesse, pelo menos eu sobreviveria. O contrabandista não cruzou a fronteira. Depois todos conseguiram passar. Eu não sentia fome nem sede, estava anestesiada. Dormia andando”.
Em campos de refugiados
Ao chegarem à Suiça, que se dizia neutra na guerra, foram enviados para um acampamento de refugiados na cidade de Lugano. Havia separação por idade e gênero. Ariella, portanto, ficou sozinha em um dos locais, longe da família, até 1945, quando as forças aliadas venceram a guerra e os levaram de volta para a Itália. As condições eram precárias.
“Eu apenas sobrevivi”, descreve Ariella.
No retorno a Bolonha, o cenário era o mesmo. Seu prédio ainda estava lá. A cidade vivia sua rotina. Mas o apartamento já não lhes pertencia. Teriam de morarna cidade onde Ariella nasceu, na condição de refugiado. Foram enviados para um campo de refugiados, onde teriam de dormir sob lonas erguidas em suportes de madeira. Mas, novamente, Alfredo Giommi, o vizinho, entrou em cena.
“Ele soube que estivemos no nosso antigo apartamento e que o novo proprietário disse que não era mais nosso. Que todos os judeus haviam perdido tudo. Ele então foi para o campo de refugiados. Me viu sentada em frente à tenda e me pegou no colo. Comecei a chorar. Meu pai, então, chegou e o abraçou. Ele nos cedeu um quarto de seu apartamento para que dormíssemos lá. Foi um anjo, nos deu um teto, o que para nós era tudo”.
Giommi recebeu, anos depois, o título de Justo entre as Nações, instituído pelo Memorial do Holocausto, em Jerusalém, em reconhecimento aos não judeus que salvaram a vida de judeus perseguidos na Segunda Guerra Mundial.
O preconceito na Europa ainda fazia da Itália e de outros países um lugar pouco confiável. Ariella iniciou o curso na Faculdade de Física, mas o interrompeu após conhecer o futuro marido, Marco Vittório Segre, que nascera em Turim, em 1934, e fugira com a família aos seis anos para o Brasil.
Ele estava na Itália para visitar parentes e os dois começaram um romance, em 1958. Dois anos depois, Ariella veio para o Brasil, onde se casaram e tiveram quatro filhos. Ela passou a ser professora de italiano, inclusive em Botucatu (SP), onde morou por alguns anos, já que Marco era professor em uma faculdade na cidade. Lucio, o irmão de Ariella, ainda mora na Itália. Ferrucio faleceu em 1976 e Íris, em 1988. “Eles vinham sempre para cá, adoravam o Brasil”, conta Ariella.
Para ela, em parte, é um alívio o fato de nunca ter ido para um campo de concentração. Por outro, ela vivencia o drama também como uma vítima do nazismo. E, onde quer que vá, carrega a bandeira da defesa dos direitos humanos.
“Esse capítulo cruel da nossa história mostra como é nefasto um povo se fanatizar quando não pensa, quando não tem uma educação completa. Foi isso que ocorreu naquela época e que não pode mais ocorrer, com nenhum povo, jamais”.
Nos Alpes, Ariella aprendeu como é importante a existência do calor humano.